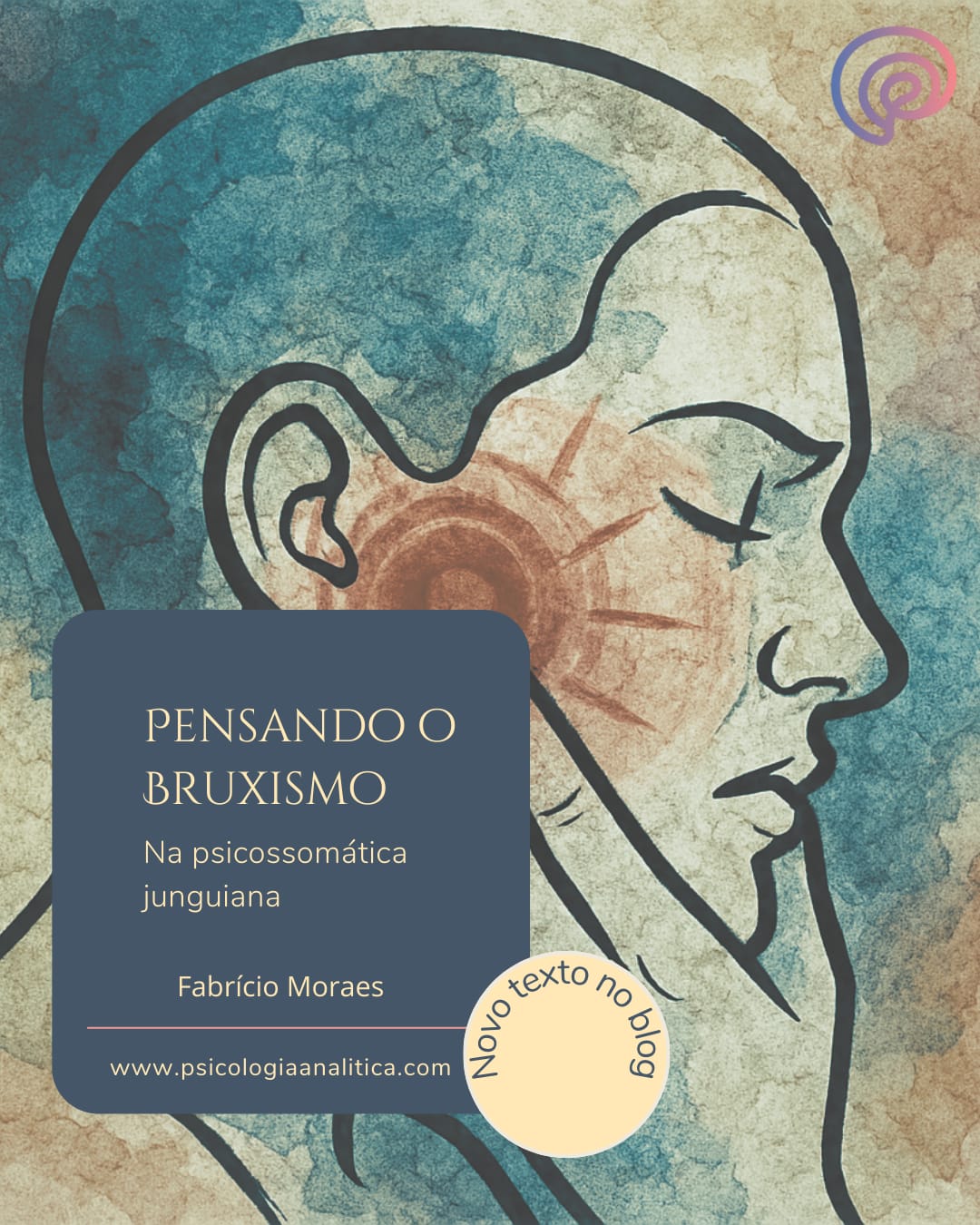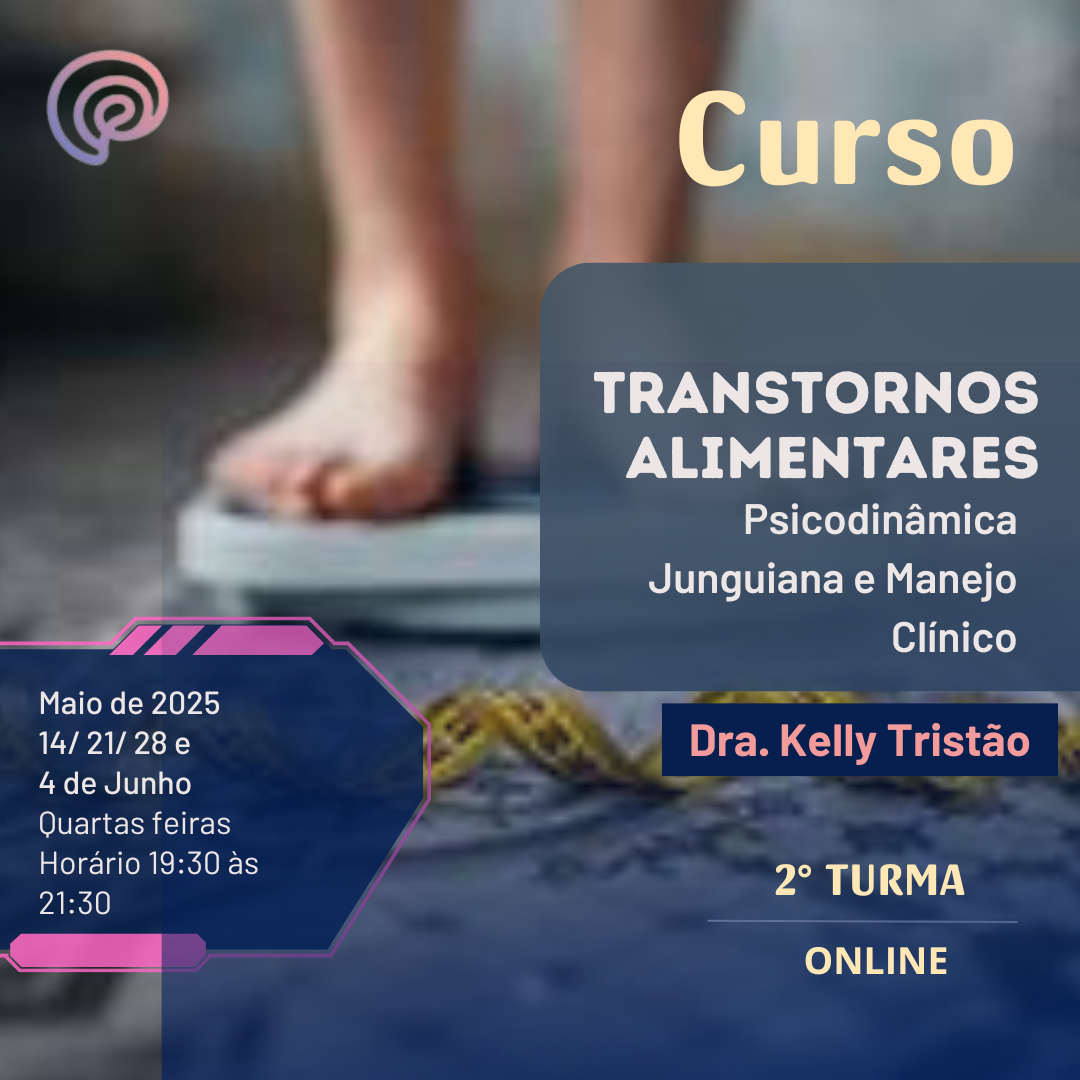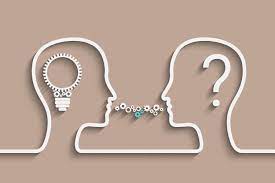Em busca da Mulher Selvagem e o processo de individuação feminino: reflexões sobre o “Arquétipo da Mulher Selvagem” e a psicologia analítica
Por Dra. Kelly Guimarães Tristão

A modernidade exige da humanidade uma postura frente à vida que nos afasta muito do contato com o simbólico, em especial, da mulher moderna, com todo o acúmulo de afazeres, papéis e cobranças, bem como medos e culpas. Tais exigências, com o trabalho, a maternidade, a sexualidade e a espiritualidade, promovem uma sobrecarga, o que dificulta ter um tempo para ter contato com os elementos do inconsciente, e também um contato com o mundo externo de maneira mais saudável. Nossas relações ficam muito prejudicadas com um todo. Daí essa necessidade como Jung traz em Vida Simbólica (2017b), que o ser humano precisa de símbolos, e precisa de símbolos urgentemente. Para nos ajudar nesse processo de manter esse contato saudável da consciência e com o inconsciente.
Pensar no arquétipo da mulher selvagem é, antes de mais nada, pensar em estabelecer uma relação saudável com o inconsciente e com o mundo externo. Assim, ele aponta para uma função em nossa vida. É o chamado abrir a porta! Que é justamente esse processo de eu me permitir conhecer aquilo que está além do que eu conheço sobre mim na atualidade. A porta só vai se abrir do lado em que estou, sou eu que tenho que abrir essa porta para que eu entre e tenha o contato com esse desconhecido.
Pode ser que isso exija de mim uma série de coisas. O abrir a porta é como entrar na Floresta, e eu vou ter que deixar coisas que eu tinha, coisas que eu era para trás. Então, o entrar na Floresta, o se abrir para esse desconhecido, algumas vezes nos trará desafios que talvez não estejamos prontos no momento para superar. Mas é preciso começar a construir instrumentos, pra nos auxiliar a abrir essa porta, atravessar essa floresta, e aprender a lidar com o que pode encontrar no caminho.
O “arquétipo da mulher selvagem” fala do relacionamento essencial com o mundo onde vivemos, e que para muitas pessoas foi soterrado. Foi soterrado pelas exigências, foi soterrado pelo machismo, foi soterrado pela culpa (moral ou religiosa). Foi soterrado por uma série de fatores. Então, é quase como se tivéssemos que desenterrar os ossos que estão ali (como no Barba azul), para que possa se construir carne (como na mulher esqueleto) e preencher essa carne de alma. O primeiro ponto de como que a gente faz isso, é perceber a existência da vida e desse momento de existência.
Algumas pessoas não conseguem perceber sua existência, o próprio corpo, os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, os próprios desejos. E quando se fala dessa compreensão, dessa vida, nesse momento, podemos recorrer à amplificação em relação com os Lobos.
Pensar a relação “com os lobos” é pensar no elemento gregário, do se relacionar com o outro. Sabemos pela experiência que os nossos pensamentos, sentimentos e ideias não são facilmente legitimados, visto que quem legitima usualmente, como a Polly Young-Eisendrath (1990) traz, é o homem branco, cis, com recursos econômicos e “reconhecimento social”. Como as mulheres não tem esse aspecto legitimado, é comum não se autorizar a muitas coisas. Daí se tem a importância de estar em grupo, de estar em grupos de mulheres, especificamente, para que nossos pensamentos e ideias sejam legitimados e para que a gente valide nossos sentimentos. Eu preciso desse olhar do outro também pra me sustentar, para que eu possa me reconhecer. Enquanto um EU, enquanto um ser humano. Enquanto uma mulher! Não quando um homem diz o que eu sou. Precisa dos grupos nesse processo. Precisa desse sentimento de pertencimento.
Esse Sentimento de pertencimento, entendendo a partir da ideia de complexos culturais (Singer, 2003), é o que nos ajuda a lidar também com os elementos inconscientes que são parte do grupo, que às vezes chegam e trazem uma mobilização…e a gente não entende nada do que está acontecendo, mas precisamos entender. É o anseio que temos a gente acaba tendo por esse arquétipo da mulher selvagem, que acontece muito fortemente a partir do momento em que se encontra alguém que o vivencia. É o que nomeamos na perspectiva Junguiana, de humanização do arquétipo.
Quando essa vivência básica de organização psíquica, ou seja arquetípica, é humanizada a partir da relação com outro ser humano, ou em uma instituição, ganha forma. Ele ganha presença. E nos identificamos com ele! Mas sendo arquetípico, ele é potência, ele existe em cada um. Mas como sabermos se existe, se nunca tivermos ciência, se nunca pudermos vivenciar? Assim, é mais fácil quando se vivencia a partir do outro, quando esse outro traz essa expressão desse arquétipo. Neste momento, podemos tanto reconhecer como também ser tocado, ser afetado por ele. Então podemos ter a oportunidade de desenvolver melhor. (você pode entender melhor sobre esse tema nesse artigo)
Sabemos que o arquétipo é um conteúdo do inconsciente coletivo, sendo assim, ele tem algo que fala da história, da evolução da humanidade. E nessa evolução existem elementos que nos aproximam. Assim como falamos que o nosso corpo tem uma história evolutiva, a nossa psique também tem uma história evolutiva.
O arquétipo diz dos padrões mais basais de organização psíquica. São as formas. Como se tem reações, sentimentos, ideias relacionadas a uma mesma temática, e isso provoca na gente uma forma de se relacionar. Depois que esse elemento se torna consciente, ele deixa de ser arquétipo. Assim, o que se tem acesso é uma representação arquetípica, que pode vir por meio da psique ou da matéria. O elemento arquetípico é psicóide. Ele é os dois (matéria e psique). Essa matéria, seja corpo, terra, seja elemento da natureza, como elementos da mulher selvagem vão ser expressos no nosso corpo, nos nossos ciclos, mas também na nossa psique. Então a gente não pode fazer uma distinção, é isso ou aquilo. Logo, isso fala desse elemento, desse arquetípico que é primordial e que não pode ser diferenciado. Matéria e psique, são as mesmas coisas.
Dito isto, precisamos entender que não existe o “o arquétipo da mulher selvagem”. Nesses termos falamos de um conjunto de símbolos ou representações arquetípicas que se faz presente através da imagem da “mulher selvagem”. Como se popularizou o uso de “arquétipo da mulher selvagem”, vamos usá-lo como expressão ou força de linguagem, mas como representação arquetípica, ele aponta ou nos permite vivenciar o potencial do arquétipo em si, mas qual arquétipo se faz conhecer pela “mulher selvagem”? Já, já vamos falar dele.
Quando temos acesso à representação arquetípica da Mulher Selvagem teremos acesso às atitudes, comportamentos, que dizem respeito àquele arquétipo. Ela vai se manifestar na Natureza básica feminina, que vai assumir várias expressões em lugares diferentes do mundo, mas o terreno fértil é o mesmo. Desta forma, quando falamos dessa natureza básica feminina, enquanto representação arquetípica da mulher selvagem, precisamos compreender que esse “selvagem” não se trata de falta de controle, de impulso, mas pelo contrário, diz respeito à possibilidade de viver e de ter uma relação com a vida de uma forma íntegra. Na perspectiva junguiana compreendemos o “ser inteiro”, que abarca os opostos: do bom e do mal! O sagrado e o terreno! Que precisam ser integrados também. Integrar nossa possibilidade de viver de forma na realidade inata e com limites saudáveis.
Esses limites saudáveis, são importantes quando falamos da mulher selvagem. Não estamos falando de rituais, mas do aprendizado de lidar com outro, esse outro que é tudo o que é diferente do Eu. Seja o meu outro interno (conteúdos do inconsciente), seja com outro externo, que são as pessoas, a natureza, o trabalho, entre várias outras coisas. Assim, precisamos construir, enquanto ser humano, esses limites saudáveis, que tanto nos ajudam a entender quem somos, porque nos diferencia do outro. Como nos ajuda também colocar limite no outro, e não ser sobrecarregado com o excesso de contato com os objetos externos. Isso não é algo que é exclusivo à mulher, o arquétipo da mulher selvagem está presente em todo e qualquer ser humanos, seja na mulher, no homem e na pessoa que não se identifica nessa binaridade.
Nesse sentido, o Jung (2017 a) aponta que o arquétipo é potência para todo e qualquer ser humano. No entanto, para as mulheres, esses limites saudáveis se tornam muito importantes, por conta de toda a história de limitações….as que as mulheres vivenciaram e vivenciam. Então as representações do arquétipo da mulher selvagem são também essas imagens que nos lembram quem nós somos! E o que a gente está representando!!! Nas estórias que os contos trazem, tem-se a mulher que vive desde sempre, a força espiritual, que se organiza e organiza a vida.
Os nomes que cada uma delas tem nos contos e estórias vão trazendo a compreensão da representação desse arquétipo da mulher selvagem. Quando pensamos quem elas são e quem elas representam, falamos do inconsciente coletivo, falamos de herança, que tem um caráter evolutivo. Então fala da nossa história! Logo, a gente precisa retomar um pouco essa história.
Em termos arquetípicos, falamos sempre de polos. Um arquétipo vai ter sempre polos opostos. O polo oposto à mulher selvagem é a deusa, logo, precisamos trabalhar, elaborar os dois aspectos. Essa selvagem, que fala desse terreno, desse biológico, desse corpo, mas também a deusa que fala desse elemento do sagrado. Neste sentido, quando nos prendemos somente a um dos elementos, estamos massacrando o arquétipo da mulher selvagem. Por outro lado, muitas vezes as vivências sobre o feminino se prendem muito ao aspecto das deusas, e nessa relação com esse sagrado, com essa deusa, negligencia-se uma compreensão da atualidade, dessa mulher que é história, mas que é atualidade também. Dessa mulher que é corpo, dessa mulher que se relaciona com outra.
Para explanar um pouco nessa história do feminino, enquanto esse feminino terreno, podemos resgatar um texto de Rose Marie Muraro (2017), autora Feminista Brasileira, na introdução do livro Maleus Malleficarum (O martelo das feiticeiras), que trabalha esse feminino enquanto inserido num coletivo.
Segundo a autora, historicamente, o feminino é relacionado à Terra. Esse útero, é um útero sagrado, porque não se tinha uma compreensão de que o homem participava também desse processo de fertilidade, de desenvolvimento de uma nova vida. Era como se fosse fecundado pelos deuses, logo esse elemento sagrado do útero era muito forte. Poderia se falar, talvez da inveja do útero, porque só a ele cabia essa possibilidade do sagrado no corpo presente, algo que era atribuído somente às mulheres. Mas essa mulher também tinha outras características, como por exemplo, o conhecimento da agricultura que, segundo os historiadores, as mulheres, na realidade, começaram a entender um pouco melhor essa compreensão dos ciclos da agricultura, justamente porque podiam relacioná-los aos ciclos do próprio corpo, ao período de descanso, ao período de fertilidade, ao período de produção. Esse feminino inicial, dessa mulher selvagem efetivamente fala também da relação, entre a vida e a morte. De saber que vai existir a morte, que vai levar alguma coisa, assim como vai vir a vida também. Além disso, tem-se também o papel da curandeira, desse cuidado, desse curar! Nesse processo, a gente entende esse feminino inicial, esse feminino selvagem.
Assim, a história fala desses limites saudáveis que se estabelecem. Por exemplo, um trabalho que era suficiente para o cuidado de si mesmo e de uma parte do grupo, que não era algo que visava o exagero, o poder. Era um cuidado suficientemente necessário. Entendemos que não existe uma supremacia feminina, mas que uma relação desse feminino com o sagrado, com o equilíbrio, com o masculino, com os homens que também tinham funções importantes e fundamentais para aquela coletividade. Só que com o processo de escassez de Terra, de uma Terra produtiva, fértil, a humanidade foi desenvolvendo os domínios das caças grandes, a necessidade de poder, as questões relacionadas com as guerras, e consequentemente, o poder em relação ao grupo passa a ser medido pela força, não pela coletividade. Essa força passa a relacionar-se também a um processo de controle dos corpos, especialmente do controle dos corpos femininos, já que eles tinham a importância de gerar. Nesse momento, o gerar não possui mais a importância sagrada e passa a ser visto como a forma continuidade daquele homem. Temos então esses processos com rigidez e regras.
Pra pensarmos em termos junguianos lançaremos mão de “A Grande Mãe” (2021) e “O medo do feminino” (2000) e como para enterremos a relação da psique à história. Neumann traz a compreensão de que a consciência vai sendo construída à medida que se tem contato cada vez maior com as regras, com os limites. Mas que no início tem-se um processo que ele chamava de arquétipo de primordial. Esse arquétipo primordial, existe antes de todas as separações possíveis.
Inicialmente, quando a gente vai falar sobre a história dos povos, segundo Neumann (2000), temos o feminino, que tinha uma relação simbólica muito maior, que ia se estabelecendo a partir, especialmente, do contato com o próprio corpo, com as mudanças, com o ciclo, e com o inconsciente, porque o inconsciente está no corpo. O Inconsciente é esse feminino. Não o feminino entendido a partir da mulher, mas essa ideia do feminino que fala do contato com os deuses, esses elementos mitológicos e simbólicos. A evolução da história da consciência, vai partindo inicialmente de um dinamismo arquetípico muito marcado pelo materno, pelo cuidado desse materno e pelas questões simbólicas, para uma existência, uma presença muito mais forte de elementos do paterno, do patriarcado, que aqui vai ser representado por uma forma extremamente negativa. O dinamismo paterno por excelência pode ser negativo ou positivo, ele também é saudável. Mas o patriarcado fala de uma rigidez de limite, de regra, de uma rigidez no direcionamento para o mundo externo, de uma rigidez de objetivos. E não deveria ser assim. Segundo Neumann, esse paterno teme o feminino. Porque o estar em contato com esse feminino é você ter que parar para ter um contato consigo mesmo, e não estar o tempo todo se lançando para o mundo. Esse processo histórico da mulher selvagem, é representado também nessa compreensão da psique. Como essa psique vai se organizando no decorrer da humanidade.
A mulher selvagem e a deusa, na realidade fala de um mesmo elemento, que é esse elemento do feminino. O Campbell (2004) aponta, que ao entender a cosmogonia, ou seja, o processo de criação do mundo, percebemos que 4 etapas. Na primeira etapa, fala-se de um mundo criado pela deusa mãe, de Gaia, também a Nanã Buruku, um mito nagô, essa mãe Terra primordial, que trouxe e que proporciona esses elementos para a criação do homem. Essa etapa inicial dos mitos cosmogônicos vai sendo muito mais representada por essa criação a partir de um feminino. Numa segunda etapa, tem-se de um Deus mais andrógeno, não é masculino ou feminino. É uma energia que possua as duas características, masculino, feminino ou mesmo um casal. Como exemplo do hinduísmo Shiva, é a energia, energia criadora e a destruição, que juntos promovem a existência do mundo, assim como a destruição da nova existência. Na terceira etapa, tem-se um Deus macho, que toma o poder dessa deusa ou que cria o mundo sobre o corpo da deusa. A exemplo, a mitologia sumérica, especialmente Siduri, que era responsável pela criação do Jardim das delícias. E Gilgamesh a relega a uma posição inferior quando ele toma o poder dela. Na última etapas dos mitos cosmogônicas, o macho que cria um mundo sozinho, e como exemplo na mitologia cristã, temos o Javé.
Paralelamente, na história da mulher terrena, da mulher selvagem, vai sendo substituída pelo patriarcado, pelo masculino, que controla e que domina os corpos, e as almas; e que tem domínio da cultura. O sagrado também vai fazendo esse processo, porque ele vai sendo essa representação da vida que está sendo construída, dessa história da humanidade que está sendo construída.
Quando Neumann traz no livro “A grande mãe” (2021) a ideia do arquétipo primordial, ele vai entender que os arquétipos vão sendo humanizados à medida que a gente vai tendo contato com elementos da vida, com humano, a partir da relação com o outro. O primeiro arquétipo a ser humanizado é o materno, e depois que ele é humanizado, a partir dessa relação externa, ele é elaborado e integrado à psique. E passa a ter essas possibilidades a partir de cada relação humana que o indivíduo acaba estabelecendo. Então tem-se inicialmente é um todo que começa a ser percebido ao ser humanizado, a partir da relação com os dinamismos.
Quando falamos do arquétipo feminino, abordamos primeiro os elementos mulher selvagem e da deusa, mas isso pode ser destrinchado. A Tony Wolf (1985), por exemplo, traz uma ideia dos 4 elementos do feminino: o materno, a amazona, a médium e a hetaira. Então, quando se fala dos arquétipos do feminino vem primeiramente a questão da mãe, mas é possível perceber no processo de leitura de Mulheres que correm com os lobos, que em cada um dos contos, vamos tendo a presença de um ou mais desses aspectos do feminino.
Essa mulher selvagem que Clarissa Pinkola Estés (1997) nos aponta, nada mais é do que o arquétipo do Self, expressado por esse feminino. Porque o arquétipo de Self? Porque quando essa psique vai se organizando, falamos do arquétipo do self. Entendemos aqui que todos nós temos essa potência para organização, para a busca de uma totalidade. Logo, quando falamos da mulher selvagem, reconhecemos essa expressão própria do Self… Essa organização que se estabelece a partir de elementos do feminino. É claro que em determinado momento da vida do indivíduo, a organização dele vai se dar por outros elementos, mas esse princípio de organização, esse princípio de busca, quando falamos da mulher selvagem, estamos falando justamente disso, dessa forma de organização ativa nesse momento, expressa no feminino. Ou seja, ao nos referirmos à mulher selvagem, entendemos que estamos retomando o nosso processo desenvolvimento, que o Jung chama de processos de individuação. O processo de individuação é nossa oportunidade de ter contato com cada um dos elementos inconscientes, elabora-los e integra-los, mas também a possibilidade de ampliar a nossa relação com a consciência, com elementos do mundo externo. Então, pensar na mulher selvagem é pensar em trazer esses elementos femininos para o nosso processo de individuação. Pensar em como a gente vai se desenvolvendo ou amadurecendo no nosso processo de vida. Aqui não falamos só de elementos femininos, mas elementos em relação com o feminino.
Vivenciar essa mulher selvagem é uma prática. É algo que se constrói no dia a dia, nas relações com as coisas, nas relações com as pessoas, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos momentos de ficar quieto. Nos nossos momentos de vazio, porque o vazio é um terreno propício para a criatividade, para as possibilidades também.
Quando pensamos em vivenciar a mulher selvagem falamos por nos interessar mais por sentimentos, pensamentos, esforços que fortaleçam e protejam as mulheres. É um investir na vida criativa, nos relacionamentos com significados, nos ciclos… os próprios ciclos, e nos ciclos que ela está inserida. Também é na sexualidade, no trabalho, na diversão. É ter uma relação com todos esses processos com significado.
É vivenciar esses processos de maneira a não estar o tempo todo à mercê do outro, ou da preocupação, ou do olhar ou do julgamento desse outro. No entanto, precisamos de um olhar sim, do nosso grupo para nos auxiliar a nos legitimar, mas não precisamos ser controlados pelo outro.
Vivenciar a mulher selvagem é organizar essa psique objetiva, organizar esses elementos inconscientes, que muitas vezes estão negligenciados. Neste contexto, precisamos desenvolver um ego suficientemente forte para poder dar conta disso; a gente precisa retomar de forma saudável a nossa relação entre esse princípio arquetípico organizador e da totalidade, e o nosso ego, que é a nossa referência de quem somos. Isso fala da nossa jornada heróica, que implica entrar nessa Floresta ou atravessar essa porta, vivenciar os desafios, reconhecer o que aprendeu. Reconhecer as estratégias construídas se utilizar delas para enfrentar a vida.
É aproximar-se da natureza instintiva:
“implica delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar o corpo com segurança e orgulho independentemente dos dons e das limitações do corpo, falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição, do pressentimento inato às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível (Pinkola Estés, 1997, p. 260).
E onde a mulher selvagem está presente?
Ela está presente, onde quer que haja uma mulher que seja solo fértil.
REFERÊNCIAS
Campbell, J. As máscaras de Deus na mitologia Ocidental. Vol 3. São Paulo: Palas Athena. 2004.
Polly Young-Eisendrath, Florence L. Wiedemann. Female Authority: Empowering Women through Psychotherapy. Guilford Publications, 1990.
Jung, C. G. Os arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Vozes: São Paulo, 2017.
Jung, C. G. Vida Simbólica. Petrópolis: Vozes, 2017.
Muraro, R. M. Introdução. KRAEMER, Heinrich; SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras, malleus maleficarum, escrito em 1484 pelos inquisidores. Tradução de Paulo Fróes. 28. ed. Rio de Janeiro: Record, 2017.
Neumann, E. O medo do feminino: E outros ensaios sobre a psicologia feminina. São Paulo: Paulus, 2000.
Neumann, E. História da Origem da Consciência. São Paulo: Cultrix, 1995
Neumann, E. A Grande Mãe. São Paulo, Pensamento- Cultrix: São Paulo, 2021.
Pinkola Estés. Mulheres que Correm com os Lobos. Rocco, 1997
Singer, T. Cultural Complexes and archetypal defenses of the group spirit. In: Beebe, J. Terror, violence and the impulse to destroy: perspectives from analytical psycholoy. Toronto: Daimon, 2003.
Wolf, T. Structural forms of the feminine psyche. C. G. Jung Institute Zurich, 1985
Dra. Kelly Guimarães Tristão (CRP 16/1398)
Doutora em Psicologia (UFES), Psicóloga Clínica Junguiana, Pesquisadora e Supervisora Clínica.
Especialista em Teoria e prática Junguiana (UVA/RJ); Especialista em Psicologia Clínica e da Família ( Saberes/ES).
Docente de pós graduação e da Formação em Psicoterapia Junguiana/CEPAES.
Atua em Consultório particular desde 2005.
Contato: 27 992573335/ email: kellytristao@cepaes.com.br
Instagram @kellytristao.psi